Na imagem, a sala do Conselho de Segurança na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos — Foto: Eskinder Debebe/ONU
A madrugada de sábado, 3 de janeiro de 2026, entrou para os anais da história geopolítica contemporânea como o momento em que a doutrina de intervenção direta dos Estados Unidos atingiu seu ápice no século XXI. Sob ordens diretas de Washington, uma operação militar de precisão cirúrgica e escala avassaladora foi deflagrada em Caracas, resultando na captura do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa, a influente Cilia Flores. O casal, que por mais de uma década personificou a resistência do regime bolivariano contra as pressões externas, foi removido do Palácio de Miraflores sob custódia americana, desencadeando uma onda de choque que rapidamente se propagou das capitais latino-americanas às chancelarias europeias e, com fúria redobrada, aos centros de poder de regimes autoritários ao redor do globo.
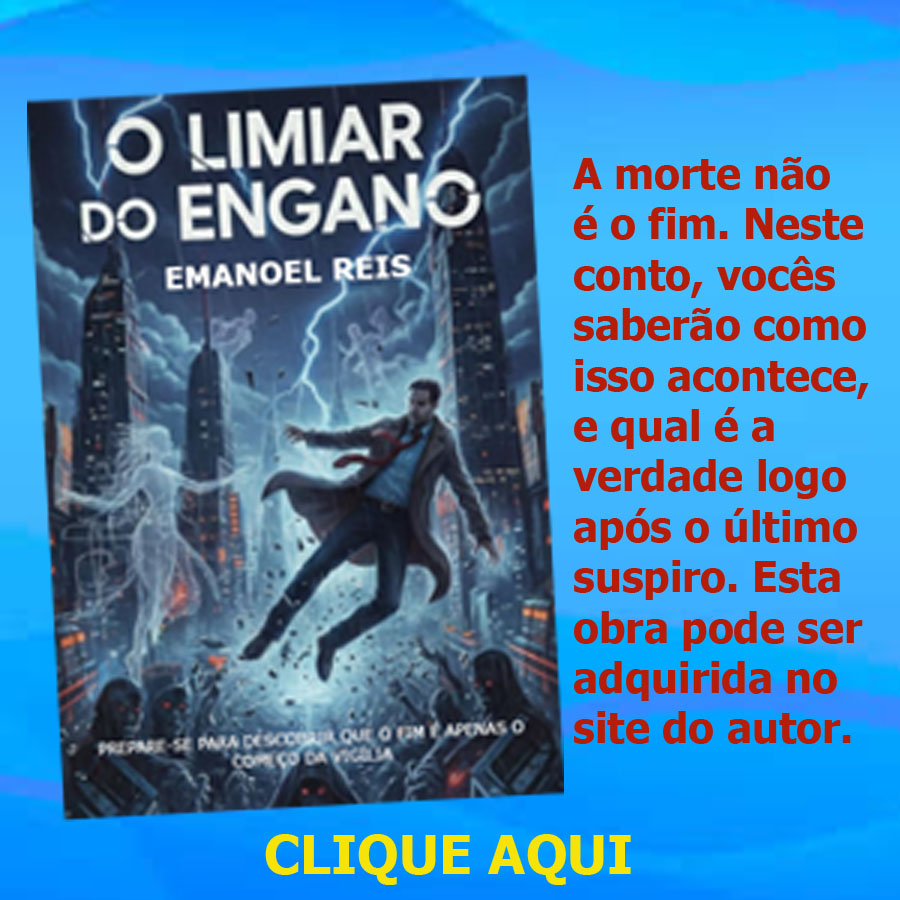
A ação, justificada pela gestão Donald Trump — que retornou ao poder com uma retórica de “tolerância zero” contra o narcoterrorismo — baseia-se em indiciamentos federais que pesam sobre Maduro há anos. Acusado de liderar o “Cartel dos Sóis” e de conspirar para inundar o território americano com cocaína como arma política, o agora ex-mandatário encontra-se detido em uma unidade federal no Brooklyn, em Nova York. No entanto, o que Washington descreve como uma operação de aplicação da lei internacional contra um regime ilegítimo é lido por uma parte considerável do mundo como um ato de agressão unilateral que desafia os pilares da soberania nacional. A contestação não tardou a vir de vizinhos como Colômbia e Brasil, que, embora críticos de Maduro, expressaram profunda preocupação com o precedente de intervenção militar direta na região.

Contudo, o coro de indignação mais estridente emanou das nações que compõem o eixo de apoio estratégico a Caracas: China, Rússia, Cuba e Coreia do Norte. Para esses Estados, a queda de Maduro não representa apenas a perda de um aliado ideológico ou parceiro comercial, mas uma ameaça existencial ao princípio de que governos autoritários podem operar dentro de suas esferas de influência sem o temor de uma incursão militar ocidental. Na segunda-feira, 5 de janeiro, o Conselho de Segurança da ONU transformou-se em um campo de batalha diplomático, onde Pequim e Moscou lideraram a ofensiva contra o que chamaram de “bandidagem internacional” praticada pelos Estados Unidos.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, foi a voz pública dessa insatisfação. Em declarações contundentes, ele acusou os norte-americanos de agirem como a “polícia do mundo”, uma posição que, segundo ele, é anacrônica e inaceitável para uma comunidade internacional que deveria prezar pela multipolaridade. A retórica chinesa, focada no respeito à autodeterminação dos povos e na não interferência em assuntos internos, busca pintar a China como uma defensora da ordem legal global contra o “bullying” americano. Entretanto, o discurso de Wang Yi carrega uma ironia profunda que não passa despercebida pelos observadores internacionais. Enquanto Pequim condena a intervenção externa na Venezuela, o Partido Comunista Chinês intensifica o que muitos chamam de “intervenção interna definitiva” em Hong Kong.

O processo de integração forçada de Hong Kong ao sistema político de Pequim é o espelho distorcido das críticas chinesas. Sob o lema de “um país, dois sistemas”, a China havia prometido manter a autonomia e as liberdades da ex-colônia britânica até 2047. No entanto, o que se vê em 2026 é o desmantelamento sistemático desse acordo. Através da imposição de leis de segurança nacional draconianas e reformas eleitorais que garantem que apenas “patriotas” — ou seja, leais a Pequim — possam concorrer a cargos públicos, a China suprimiu os movimentos pró-democracia que ganharam as ruas anos atrás. O objetivo chinês é claro: eliminar o “barulho” democrático sem recorrer a uma repressão violenta ostensiva que pudesse comprometer o status de Hong Kong como um hub financeiro global, mas garantindo uma submissão política absoluta ao continente.

Essa dualidade de critérios ficou evidente quando o governo chinês expressou seu “extremo descontentamento” com as declarações do G7. O fórum, que reúne as democracias industrializadas mais influentes do mundo, havia feito um apelo por moderação e pelo fim da violência em Hong Kong após meses de protestos civis. Na ocasião, o então porta-voz Geng Shuang foi categórico ao afirmar que nenhum Estado ou organização internacional tinha o direito de interferir em questões que Pequim considera estritamente domésticas. Esse mesmo escudo da “soberania absoluta” é agora estendido à Venezuela de Maduro, na tentativa de criar um ambiente onde ditadores possam exercer o controle total sobre suas populações sob a proteção diplomática de potências autoritárias.

A Rússia, por sua vez, uniu-se à China na condenação feroz do ataque americano no Conselho de Segurança da ONU. O embaixador russo, Vasily Nebenzya, classificou a prisão de Maduro como um ato de neocolonialismo e exigiu a libertação imediata do casal presidencial. Para o Kremlin, a Venezuela é uma peça-chave no xadrez geopolítico para desafiar a hegemonia americana em seu próprio hemisfério. A estranheza dessas críticas russas, entretanto, beira o absurdo quando analisada sob a ótica da política externa de Vladimir Putin na Europa. Enquanto Moscou denuncia a “violação da soberania venezuelana”, Putin comanda o que analistas descrevem como uma guerra de extermínio contra a Ucrânia.

Desde o início da invasão em larga escala em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia tem sistematicamente violado todos os princípios de soberania que agora alega defender na América do Sul. A Ucrânia, um país que até então era livre e soberano, tornou-se alvo de uma campanha de bombardeios incessantes que não poupou hospitais, creches, escolas ou edifícios residenciais. Milhares de inocentes foram mortos e milhões deslocados em nome de um expansionismo imperialista que busca apagar a identidade nacional ucraniana. A contradição russa é flagrante: Putin invadiu um vizinho para anexar territórios e derrubar um governo democraticamente eleito, mas considera “ilegal” e “imoral” uma operação americana para prender um ditador acusado de crimes contra a humanidade e narcotráfico.

O cenário de 2026 desenha uma divisão clara no mundo. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, que parecem dispostos a usar o poderio militar para remover líderes que consideram ameaças à segurança regional e aos direitos humanos. Do outro, um bloco liderado por China e Rússia, que utiliza a retórica da soberania para proteger regimes autocráticos e expandir suas próprias zonas de influência. A captura de Maduro e Cilia Flores é apenas o estopim de uma crise muito maior, que testa os limites das instituições internacionais e a própria definição de lei e ordem no século XXI.

Enquanto Maduro aguarda seu julgamento em uma cela no Brooklyn, a Venezuela mergulha em uma incerteza perigosa. Delcy Rodríguez, declarada presidente interina pelo Supremo Tribunal venezuelano controlado pelo chavismo, já emitiu ordens de prisão contra todos os americanos envolvidos na operação e convocou a população à resistência. O apoio de Pequim e Moscou a essa continuidade governamental sinaliza que a batalha pela Venezuela não terminou com a prisão de seu líder, mas apenas mudou de fase. A disputa agora não é apenas pelo petróleo ou pelo território, mas pelo controle da narrativa global sobre o que constitui uma intervenção legítima e quem, afinal, tem o direito de agir como juiz na arena internacional.

Para a população venezuelana, espremida entre a bota do autoritarismo doméstico e o impacto da intervenção estrangeira, o futuro permanece uma névoa de incertezas. A eficácia da ação militar americana será medida não pela captura de um ditador, mas pela capacidade de facilitar uma transição democrática real que não transforme o país em um novo campo de batalha para as potências mundiais. O que se vê hoje em Nova York, Caracas, Pequim e Moscou é a reedição de uma guerra fria que, a cada dia, parece mais quente, com a América Latina voltando a ser, de forma trágica e central, o epicentro das tensões globais.

Descubra mais sobre
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.





